Abandonado - Vinícius Pinheiro
Um livro de escrita
peculiar, com passagens hilárias, marcado pelo tom irônico, especialmente no uso
de metáforas e adjetivações na composição e caracterização dos personagens e
das próprias experiências que moldam o enredo.
Bem escrita, a obra de
Vinícius Pinheiro vai fisgando o leitor a partir de um encadeamento dinâmico,
ativo e plausível, capaz de apresentar sempre nova surpresa a cada pequeno
capítulo. Quase impossível parar de ler. Faço essa resenha, sem qualquer
compromisso de coesão textual das ideias; são, muito mais, pequenos apontamentos
independentes a cada parágrafo.
A trama em si, envolve as
experiências de vida, de trabalho, de relacionamentos e de família de Alberto Franco,
um jovem roteirista e jornalista em busca de reconhecimento e estabilidade, que
passa a escrever um roteiro para o cinema a partir de um livro, e que tem algum
medo do fracasso. O personagem é leve e, ao mesmo tempo, insatisfeito, uma marca
do anseio juvenil em busca de um firmamento de vida. Um sujeito talvez abandonado,
mas que sabe muito bem se virar sozinho. Por outro lado, busca consolidar sua
própria identidade, “quem diabos é você?”, pessoal e profissional.
Nada é dito sobre quando
tudo se passa. O leitor não tem informação sobre o horizonte temporal da
história. A narrativa é a memória do narrador sobre eventos da sua própria vida
em um passado indeterminado. Como o livro foi publicado em 2015, fui levado a
crer que tudo ocorrera no início dos anos 2000.
O autor cria um
personagem que não apresenta qualquer modéstia, que se gaba o tempo todo da sua
suposta boa capacidade de domínio da escrita, com “apuro estilístico” (p. 137),
altamente convicto sobre sua capacidade criativa: “meu verdadeiro dom era
escrever” (p. 19). Alberto Franco é o protagonista e o narrador (em primeira
pessoa), talvez o alter-ego do autor.
Em determinado momento,
o narrador passa a conversar com o leitor (p. 72-73) e esse recurso ganha constância
nos capítulos seguintes, trazendo a sensação característica da leitura de uma
missiva direcionada a um interlocutor compreensivo, porque torna o leitor
cúmplice da narrativa.
“Sabe,
quando comecei a lhe escrever não pensei em nada disso. Creio que jamais serei
frustrado, ao menos no campo literário, porque escrevo sem nenhuma expectativa
a não ser a de que você leia. E se você chegou até aqui significa que eu não
sou um escritor frustrado” (p. 96).
Depois, a conversa com
o leitor dá lugar à conversa com o autor do livro que o protagonista transpõe –
em roteiro – para o cinema, um sujeito inicialmente não-revelado. E, assim, a
suspeita sobre a identidade desse autor vai ganhando contornos até a revelação.
É interessante, por
exemplo, perceber as indiretas e engraçadas referências a letras de músicas,
que, talvez, alguns jovens, hoje, não relacionem de imediato; à Raul Seixas (“Metamorfose
ambulante”): “no mesmo espírito metamórfico ambulante” (p. 56); ou à Roberto
Carlos e Erasmo Carlos: “Eu voltei, mãe. Voltei para ficar” (p. 75). Em outras
passagens, a ironia se impõe: “o sexo acontecia sem emoção, como se fôssemos um
casal feliz” (p. 58); “todo bebê recém-nascido tem a mesma cara de quem era
feliz e não sabia” (p. 168).
Em vários momentos faz
pensar em certas dificuldades e inconveniências que acompanham a profissão
jornalista, não pela trabalho em si, mas pela pressão, concorrência, inveja e
mal estar que podem imperar entre colegas de trabalho. E também na relação
entre experientes e novatos marcada por arrogâncias, invejas e preconceitos – a
exemplo da passagem: “melhor deixar o trabalho na imprensa para espertinhos
metidos a intelectuais” (p. 45). Também faz menção à reputação, ao desejo de
fama e aceitação e ao suposto trabalho exaustivo nas redações, a “escravidão
travestida de jornalismo” (p. 121).
Existe, no livro,
alguma tentativa de afirmação de masculinidade, mesmo que seja a contrapelo,
tentando demonstrar as fragilidades ou ausências de singularidades reconhecidas
social e culturalmente como másculas. Assim, ao longo da narrativa, percebe-se
referências (independentes do contexto ficcional) à virilidade, ao desempenho
sexual, aos fetiches sexuais, às “escapadas” inevitáveis, ao tamanho do pênis,
etc.
Além disso, o que me
incomodou e me decepcionou bastante, foi o evidente preconceito do personagem Alberto
Franco: “Era a primeira vez que o encontrava desde que decidira virar gay” (p. 138). Pergunto: virar gay faz sentido? É claro que não.
Na sequência, diz: “mas ele não demonstrava um mínimo de frescura capaz de
levantar suspeitas” (p. 139). Então, ser gay necessariamente precisa apresentar
um mínimo de frescura? É claro que não. Depois diz: “em nenhum momento ele
demonstrou alguma atitude comprometedora” (p. 139). Pergunto: haveria de
demonstrar? Eu sei que pode ser lido como uma característica do personagem que
supostamente reflete o pensamento homofóbico estrutural, mesmo assim,
considerando ser um personagem intelectualizado, arrojado, ligado à comunicação
e às artes, um indivíduo do século XXI, poderia, na minha opinião, ter sido
construído por outro caminho no pensamento em relação à homossexualidade.
Fiquei em dúvida quanto
ao sentido de uma passagem da obra, mas talvez eu possa estar enganado. Em
determinado momento, o personagem escreve um crônica sobre uma partida de
futebol e este texto acaba sendo criticado pelo editor do jornal, que o retira
imediatamente do site. No entanto, posteriormente,
o narrador aponta que a crônica foi indicada para uma premiação jornalística.
Fiquei me perguntando: poderia ser indicada, mesmo sem estar publicada? Equívoco
de minha leitura? Ou contradição da trama? Ou foi proposital, afinal é apenas
uma ficção?
O cigarro é bastante
criticado, tido como o “câncer portátil” (p. 13), o elemento “que tornava o
ambiente um pequeno cemitério de almas vivas” (p. 62), mas o jovem protagonista
termina fumando cigarro (p. 160) e não dispensa a erva, afinal, “passávamos o
tempo fumando maconha” (p. 51), “sempre chapados” (p. 170).
A referência constante
a uma vidente que dizia “tudo está escrito”, tornou-se um aspecto repetitivo no
livro e um pouco enfadonho. Um outro elemento aparentemente bobo, mas que me
incomodou foi nomear os policiais como “tiras”, algo absolutamente não-usual na
nossa linguagem, exceto nas dublagens de filmes dos anos 1990.
Ao referir a “catástrofe
que abalaria toda a espécie” (p. 144), o autor parece antecipar o mundo
pandêmico do coronavírus em que vivemos hoje.
Ao ler o livro,
confesso que me identifiquei em vários momentos e não sei explicar muito bem
por quê. Talvez pelas minhas memórias sobre as descobertas e vivências dos desejos
e ansiedades que marcam o início da autonomia do mundo adulto, quando se tem
vinte e poucos anos e se quer viver tudo com plenitude.
Publicado em 2015 pela
editora Geração Editorial, 186 p., o livro do paulista Vinícius Pinheiro (1977-) é bom demais, inquieta e faz ri. Recomendo leitura.
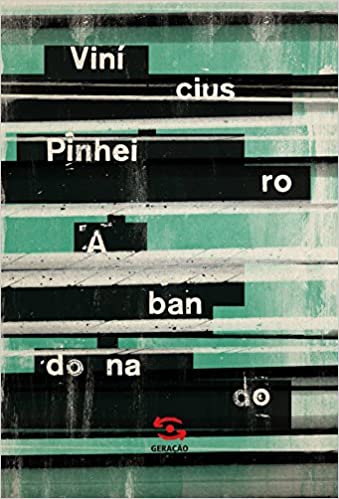

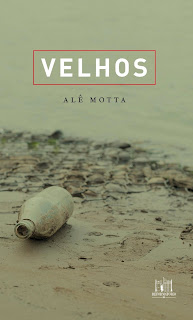



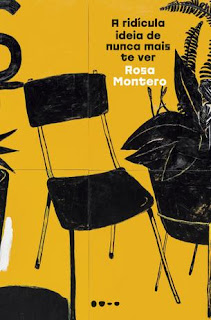


Comentários
Postar um comentário